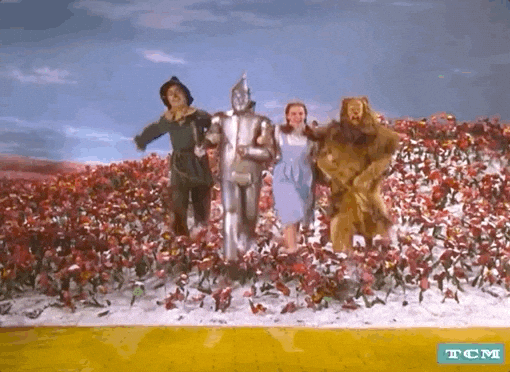NOTA DO AUTOR: Antes de tudo, esse artigo é inspirado no vídeo “Death of the Movie Musical” da autora e influencer digital Lindsay Ellis. Deem uma conferida!
Na lista das dez maiores bilheterias do cinema, apenas duas produções podem ser consideradas relativamente originais ou inovadoras. As demais se enquadram em três categorias: filmes de super-heróis, continuações e remakes/reboots — o que sintetiza o terreno onde a indústria cinematográfica encontra lucro atualmente. Ocasionalmente, um filme de origem independente chama a atenção de críticos e do público; o mesmo pode ser dito de um longa musical. No entanto, houve uma época em que os musicais eram o principal sucesso de bilheteria. Eram os queridinhos das premiações, e o prestígio de participar de uma produção do gênero era imenso.
Mas como, após uma série de estratégias arriscadas e decepções amargas, os grandes musicais de Hollywood se tornaram uma espécie rara?
Antes de tudo, um pouco de história
Em meados da década de 1920, os filmes falados revolucionaram o cinema, dando origem aos primeiros curtas musicais e, posteriormente, aos longas-metragens do gênero. O primeiro filme considerado um musical é O Cantor de Jazz, lançado em 1927 — também lembrado pelo uso problemático do blackface.
Hoje, o período entre as décadas de 1930 e 1950 é conhecido como a “Era de Ouro dos Musicais”. Esse intervalo nos trouxe clássicos como O Mágico de Oz, Desfile de Páscoa, O Picolino, Cantando na Chuva, entre outros. Foi também o tempo de ouro de estrelas imortalizadas pelo canto e pela dança: Fred Astaire, Ginger Rogers, Judy Garland, Carmen Miranda, Gene Kelly… a lista é extensa.
Seja por seus números complexos ou pelas coreografias grandiosas (quase sempre cortesia do icônico Busby Berkeley), os musicais construíram uma reputação sólida e passaram a ser vistos como essenciais para a indústria. Eram ideais para os chamados lançamentos roadshow, uma estratégia muito usada entre as décadas de 1950 e 1970.
O lançamento roadshow buscava aproximar a experiência do cinema à de uma noite no teatro: um número limitado de salas exibia o filme com ingressos mais caros; não havia trailers antes da sessão, e o longa, geralmente mais extenso que o normal, contava com uma intermissão para que a plateia pudesse se alimentar ou ir ao banheiro.
Essa estratégia era reservada a gêneros específicos, como dramas (E o Vento Levou), épicos (Ben-Hur) e, claro, musicais. No entanto, com a popularização da televisão na década de 1950, muitos perceberam o quanto o sucesso dessas produções dependia da experiência imersiva do roadshow. Somado a isso, o fracasso de algumas superproduções quase levou estúdios à falência, fazendo com que o investimento em épicos e musicais começasse a parecer arriscado.
Até que Julie Andrews apareceu voando com um guarda-chuva
Walt Disney, o capitalista favorito de todos, lançou Mary Poppins em 1964 — um sonho antigo desde 1940. O filme impulsionou a carreira de Julie Andrews no cinema e lhe rendeu seu primeiro (e único) Oscar de melhor atriz. Ao todo, Mary Poppins recebeu 13 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme. Foi o último grande sucesso de Disney antes de sua morte, em 1966, e um fenômeno de crítica e bilheteria. Embora não tenha recebido o tratamento roadshow nos EUA, foi lançado dessa forma no Reino Unido — uma decisão que se provou acertada.
No mesmo ano, a Warner Bros. lançou a adaptação de My Fair Lady, estrelada por Audrey Hepburn (com suas partes cantadas dubladas). O filme se pagou rapidamente, tornou-se a segunda maior bilheteria do ano e conquistou 8 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor.
Mas o verdadeiro impacto ainda estava por vir.
Em 1965, a 20th Century Fox lançou A Noviça Rebelde, um musical nos moldes clássicos da década anterior, com lançamento roadshow. Sozinho, o filme quebrou recordes de bilheteria e reverteu o prejuízo catastrófico causado por Cleópatra ao estúdio, além de vencer 5 Oscars, incluindo melhor filme.
Somados, Mary Poppins, My Fair Lady e A Noviça Rebelde conquistaram 35 indicações ao Oscar e levaram 18 estatuetas. Por um breve momento, parecia que os grandes musicais haviam sido salvos.
Como Barbra Streisand (sem querer) enterrou os musicais
Após o sucesso de A Noviça Rebelde e My Fair Lady, os estúdios voltaram a apostar em grandes e caros musicais — um erro custoso.
Camelot, da Warner Bros., e Doutor Dolittle, da 20th Century Fox, são exemplos de produções problemáticas: protagonistas sem habilidade vocal, orçamentos estratosféricos, bastidores conturbados, resultados medíocres de bilheteria e críticas, e um legado no mínimo polêmico. Camelot abalou as finanças da Warner por anos, enquanto Doutor Dolittle se tornou um símbolo de desperdício e desorganização.
Mesmo após outras tentativas igualmente desastrosas, os grandes estúdios ainda depositavam esperanças em um último suspiro: Hello, Dolly!, lançado em 1969.
Estrelado por Barbra Streisand, o filme teve o maior orçamento já destinado a um musical até então (cerca de 25 milhões de dólares). Apesar de promissor, Dolly fracassou tanto crítica quanto comercialmente, sendo ofuscado pelas polêmicas em torno da escolha de Streisand para o papel — originalmente associado à atriz Carol Channing. A bilheteria mal cobriu os custos, mergulhando novamente a 20th Century Fox em prejuízo.
O fracasso de Hello, Dolly! foi a gota d’água. A partir dali, os estúdios passaram a repensar seriamente o investimento em musicais grandiosos.
E depois?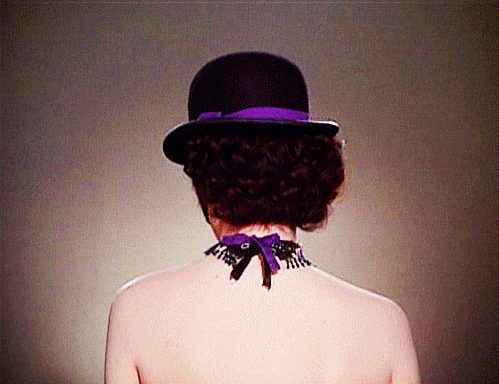
Os musicais luxuosos saíram de cena, mas o gênero encontrou novos caminhos. Filmes como Cabaret e All That Jazz apresentaram uma abordagem mais realista, com números musicais inseridos em contextos diegéticos — em palcos ou ensaios —, evitando que os personagens explodissem em canções do nada. O resultado foi extraordinário: Cabaret, por exemplo, é até hoje considerado um dos maiores musicais da história.
Durante as décadas de 1970 e 1980, adaptações da Broadway surgiam de forma esporádica, como os cultuados The Rocky Horror Picture Show e A Pequena Loja dos Horrores, mas eram exceções em uma época dominada por blockbusters.
Nos anos 1990, os chamados musicais animados da Renascença Disney (e seus concorrentes, como Anastasia) reviveram os elementos clássicos do gênero. Em mundos animados, fazia sentido que os personagens cantassem seus sentimentos — algo que jogava a favor da Disney. A Bela e a Fera (1991), inclusive, foi o primeiro musical indicado a melhor filme desde Hello, Dolly!.
Com Moulin Rouge (2001), pela primeira vez em décadas, um musical conseguiu capturar a atenção do público, da crítica e da Academia. A estética vibrante e o tom cartunesco do filme de Baz Luhrmann justificavam os números musicais, embalados por versões exuberantes de canções conhecidas. O sucesso foi estrondoso.
Somado à adaptação de Chicago (2002), estrelada por Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones, o gênero viveu uma breve renascença. Durante os anos 2000 e 2010, diretores como Tim Burton, Chris Columbus, Rob Marshall, Tom Hooper e Damien Chazelle voltaram a explorar o musical no cinema. Alguns obtiveram enorme sucesso — como Chazelle com La La Land —, enquanto outros, como Hooper com sua catastrófica adaptação de Cats, fracassaram duramente.
Com grandes estúdios comprando os direitos de peças consagradas da Broadway, é plausível imaginar que estejamos à beira de uma nova renascença dos musicais — ainda que, hoje, cantar seus sentimentos não seja mais algo que o público aceite sem questionamentos.